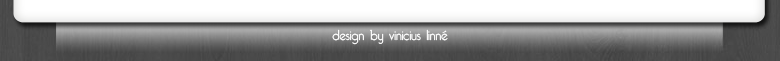Chego tarde, acendo outro cigarro e fumo na janela, enquanto você não está. Tem sido assim agora. Eu venho para tua casa para ficar sozinho. Os carros passam já sem profusão, as crianças quase não gritam e as mulheres poucas andam armadas pelas sacolas. Na praça, cachorros coçam uns aos outros em ritual pagão.
Tua casa respira pelos pêlos no nariz da velha. Ela sentada me observa como se eu fosse um invasor. Mas ela só me olha assim enquanto você não está. Assim que você entrar pela porta, a velha volta seu humilde natural. O que me fere mais. A humildade me dilacera pela pena que eu não tenho.
Não posso ter. É pela velha que você não vem. A velha te impulsiona para fora daqui e de mim. Eu sei. Você ainda não sabe, mas eu já sei. As linhas, os bordados as costuras que você fica até tarde a comprar. As pílulas, as gotas, os analgésicos que você começou a tomar. Tudo coisa da velha. Ela te sussurra essas coisas no peito, quando ninguém mais escuta.
Anoitece, e então eu venho. Venho e fico sozinho. Ou venho e vejo você ser da velha, enquanto eu só estou, sem pertencer.
Agora eu fumo. Fumo e minha fumaça incomoda a velha, eu sei. A fumaça azul irrita a textura vermelha dela. Não faço de propósito. Faço de nervoso que fico. Qualquer hora ela me dilacera. Minha vontade era a de não vir mais. Não ficar esperando na casa que tem o cheiro dela. Não esperar até seus poucos segundos de atenção, antes que você se volte – de novo – toda pra ela.
Sinto-me sem ser. Ela não me deixa lugar na casa. Ela ocupa tua parede inteira, porta à porta. O que me sobra são as migalhas tuas que ela derruba. Minutos entre teu limpar da baba dela e criar da tua própria, já no sono pesado.
Então eu existo para isso? Para os minutos que caem sujos das sobras da velha? Eu existo para você me ver entre o fazer das coisas e o desfazer do sono? Penso nisso quando você entra, carregada de sacolas.
Beija-me rápida, coloca tudo nos lugares, corre pelos cômodos todos, azula tudo com tua presença sem força, com teu rosto sem marca, com tua cara vazia. Quando lembra de mim já é tarde. Bem tarde.
Da janela já só se vêem as prostitutas. Você pergunta sem interesse pelo meu dia. Que quem sabe foi quente. Eu respondo qualquer coisa e penso nos filhos que já não vamos ter – falta espaço na casa.
Você sorri e eu sei que é para a velha. Agora ela toda é humildade e compaixão e carinho. Já escondeu sob o peito a voracidade com que te devora. Protocolar, você pergunta se tenho fome. Digo que não. Pergunta se tenho sono. Digo que não. Deveria perguntar se tenho sentido. E eu responderia que não.
Até eu apagar o cigarro você já dormiu. Meus olhos se abrem no escuro e viram abismos. E eu já não sei mais o que eu faço aqui sozinho. Tenho ímpetos de levantar, vestir minhas calças e sair dessa casa. Mas tenho medo de fazer isso. Medo do mal que pode te fazer a velha. Pintada assim, na tela de Marc Chagall.
_________________________
Conto inspirado em Lídia e o Rabino do - e custa-me dizer isso, depois que o conheci na Jornada - Charles Kiefer.
_________________________
Conto inspirado em Lídia e o Rabino do - e custa-me dizer isso, depois que o conheci na Jornada - Charles Kiefer.