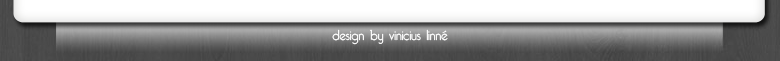A coberta era azul e o choro afogado nela talvez fosse de morte. Não sei. O quarto trancado. O menino de choro constante e miúdo. Os pais na sala, sem desconfiar.
Ele esfregava o rosto vermelho como que para lavar dele as palavras ricocheteadas. Talvez, se esfregasse por tempo suficiente, com força suficiente, deixasse de ter rosto. Deixasse de existir. E ele queria deixar de existir. Não sei. Era tarde, era inverno, era frio demais. E eu sinto.
- - -
Caminhou pelo mesmo caminho. Como se andar na linha talvez fosse livrá-lo das armadilhas. Como se na rotina de não ser notado, ele parasse de ser visível. Como se ele tivesse força suficiente para sumir. Não tinha. Pensou em forca, faca, pílulas roubadas do armário da mãe. Tinha medo da dor. Coragem não tinha.
Agia, estúpido, como se dois ou três segundos - a dor de um corte - fosse mais profunda e pungente do que a dor crônica no peito. Do que a dor de ser. Do que a dor de existir-se. Mas ele só entenderia muito depois sobre a dimensão das dores. Naquela tarde de inverno preferia a dor de estar vivo.
E a cabeça latejava a cada passo. Ele só queria chegar em casa, trancar a porta do seu quarto e chorar. E chorar como se isso lavasse dele a tinta daquelas malditas palavras. Eram passos duros no caminho então estendido. Nunca durou tanto a volta da escola. Nunca ele quis tanto que a estrada nem terminasse. Que no asfalto duro um ônibus lhe esparramasse cadernos e palavras e sangue no chão. Sem dor, por favor.
- - -
Na primeira esquina ele dobrou. Olhos turvos já pelas lágrimas. Pensando saídas. Os meninos menores da outra escola esbarravam nele. E ele subia a rua. Depressa, coração acelerado, caderno preso no centro do peito. O menino criara garras para defender aquelas suas folhas. Como se sua vida dependesse só do caderno continuar fechado.
Não dependia. Dependia, isso sim, dos outros desistirem daquela caçada. Não desistiriam. Numa olhada baça para trás ele os viu. Olhos de fome. Cães em busca da burra e covarde raposa. Cada vez mais perto. Corriam. E ele também. Escorregando, caindo, perdendo a mochila, mas segurando bem forte as palavras de dentro do caderno. Não. Elas não escapariam. Não poderiam.
O beco sem saída na entrada da outra escola. Caminho desconhecido, esquina errada, armadilha certa. E os olhos. Em cem anos ele não esquecerá dos olhos. Os outros todos estavam ali. Os vinte e seis. Vinte e seis meninas e meninos. E ele sozinho. Havia atravessado o campo do já-dito. E não poderia mais voltar. Estava declaradamente fora do mundo alheio. E o mundo alheio era o único possível.
Sim, ele ainda não havia enveredado em suas próprias ranhuras. Ele ainda não conhecia os cactos e as flores da noite que lhe nasciam entre os espinhos do corpo. A menina loira ia à frente. Dentes arreganhados. Sardas aos gritos. Olhos claros faiscando. Dedos apontando para ele. ALI! Cercaram-no.
Não. Injustos não foram. Deram-lhe opções. Ele é que de frágil e tonto recusou-se a aceitar a melhor delas. Podia escolher: ou apanharia de todos eles, até ir parar no hospital, ou entregava-lhes as palavras aquelas. Caderno contra o peito. Os vinte e seis gritando: BATE! BATE! BATE!
Porque naquele ponto o ódio já havia sido despertado. E depois de conjurado ele precisava da razão de existir pleno. As palavras já eram pretextos esquecidos. A sede era da dor alheia. Sempre há os que precisam dela. Ali vinte e seis beberiam da dor de um menino só. Ou da dor física. Ou da mortal dor moral.
Era frio. Ele suava. Não havia ninguém a lhe apoiar. Ninguém para dizer "foge, menino". Ninguém para dizer que sob aquele céu de chumbo a dor não precisava ser forjada. Eu não sei. E ele estendeu o caderno.
Estendeu e eles devoraram aquelas palavras, rasgaram a folha, picotearam a tinta. Riram. Jogaram as palavras todas de volta naquela cara suja de menino só. Comeram as palavras e cuspiram nele os pontiagudos ossos. Com escárnio. Com deboche. Com ódio. E, principalmente, com vontade. E era a vontade o que o assustava mais.
- - -
Foi no meio da aula de matemática que lhe pegaram o caderno. Queriam copiar algum exercício. Era bom em matemática. Embora fosse substancialmente melhor em Literatura. Entre os cálculos, algumas palavras esquecidas. E a menina que pegou o caderno as encontrou. Por acaso. Como quem, ao não procurar nada, se deparasse com um segredo muito bom e feio e sujo.
Ela começou a ler, voz alta, timbre tenso. Ódio nascendo no peito. Os outros foram silenciando, ouvindo. Até o menino perceber o que era. O que estavam fazendo dele. Até ele sentir o sangue invadindo seus ossos. Seu peso dobrando de humilhação e vergonha. Conseguiu tomar o caderno antes que ela chegasse na metade. Conseguiu prender no peito as palavras.
Soou o sinal. Por um momento, não sei, ele pensou que talvez estivesse a salvo. Que poderia correr como o vento. Que poderia chegar em casa, seu esconderijo, e fingir que nada acontecera. Pensou que poderia disfarçar. Ficar em casa no dia seguinte. E nos outros, até que eles esquecessem daquelas palavras. Mas eles não esqueceriam. Quando ele deixou a sala de aula, o perseguiram feito matilha de cães hidrófobos.
- - -
A tarde era azul. E ele era feliz. Feliz porque longe deles. Feliz porque cercado de palavras. Eles tinham os socos, os pontapés, as boladas na sua cara para serem felizes. Eles tinham a humilhação, o desprezo e os risos para torná-los melhores, mais fortes e saudáveis e plenos. Ele tinha as palavras. E fez delas sua maior riqueza. Sua arma de ataque e seu escudo fraco. Seu consolo de inverno e seu abrigo da solidão medonha dos treze anos.
Por descuido, por sortilégio, por inocência, por carinho apenas, guardou aquelas palavras - justo aquelas - dentro de um caderno. O caderno de matemática. E foi também, não sei, para que pudesse carregá-las consigo. Para que delas tirasse alguma força, algum alívio, algum bálsamo rápido para sua dores mais pequenas.
 Como se, sozinho na sala, durante o recreio, ele pudesse lê-las e então alegrar-se com isso. E então suportar uma vez mais. Um dia mais. Até que a eternidade de tê-los em volta se dissipasse feito bruma. Até que eles não fossem mais do que a baça lembrança de um pesadelo.
Como se, sozinho na sala, durante o recreio, ele pudesse lê-las e então alegrar-se com isso. E então suportar uma vez mais. Um dia mais. Até que a eternidade de tê-los em volta se dissipasse feito bruma. Até que eles não fossem mais do que a baça lembrança de um pesadelo.Botou o caderno na mochila e foi feliz como quem não sabe do próprio destino. Feliz como quem sonha com grandezas e amizades e amores. Feliz como quem sonha com a distância. Não sei. Feliz como quem não quisesse, ainda, se matar.