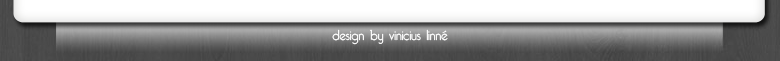Outro dia cunhei a seguinte frase: "Escrever é isso, no fim, encontro de dores. Da dor de quem lê, na dor de quem escreve". Nada tão inovador, nem muito diferente do que Pessoa já dizia na sua Autopsicografia, apesar disso, verdadeiro.
Eu me identifico com tantas dores alheias... Muitas delas escritas. Às vezes o outro consegue condensar tão bem o que sentimos, em palavras, que é como se elas tivessem saído de nós. Daí vem a vontade imensa de ter escrito aquilo, cada letra, porque não é de outra coisa que fala, senão de nós. Eu mesmo queria, por exemplo, ter escrito metade dos livros da Clarice Lispector. E quase todos os do Caio Fernando Abreu. Não escrevi.
Não escrevi, mas posso ler, posso me identificar, posso encaixar minhas dores nas deles e posso, sim, copiar. Copiar para guardar, para compartilhar, para dizer com as palavras deles como eu me sinto aqui.
O fundamental, porém, é o que se faz nessa cópia.
Em primeiro lugar, não posso jamais mudar um texto que não é meu. É como se, diante de uma pintura, eu decidisse pegar um pincel e adequar qualquer cor a outra que mais me agradasse. Não. Não é assim. Alguém sentiu suas dores, sentou, pensou, escreveu, releu, corrigiu, refez para que tudo se encaixasse desse ou daquele modo... Que direito eu tenho de mexer no que não é meu? Princípios fundamentais. Daqueles que se aprendem na educação infantil.
Em segundo lugar, é imprecindível dar a César o que é de César. Ou seja, o nome de quem escreveu aquele texto PRECISA aparecer ali. Apropriar-se do que não é seu - seja dinheiro, um objeto, um quadro, um texto - é sempre roubo. Não é porque são imateriais (e são mesmo?) as palavras que elas podem pertencer a qualquer um.
Magoa ver uma coisa sua, tão íntima - porque toda escrita minha é diário íntimo - servindo de palco ao agrado de qualquer um. Falo isso porque hoje vários textos meus estavam espalhados por aí, ao vento. E se eu perguntar a quem os copiou/roubou quem é a Ághata, por exemplo, de que falam os textos, eles não saberão. Para eles é um nome. Para mim não.
Entendem? Poucos compreendem a grandiosidade do que escondo ali, nos meus escritinhos pequenos. Meus códigos, meus traços, meus segredos. Coisas que para outros podem não fazer sentido algum, palavras e nomes que são enfeites alegóricos podem ser, em mim, o centro de tudo mais.
Não sou contra a cópia, muito pelo contrário. Eu copio os textos de que gosto. Mas não os altero e sempre dou crédito a quem os escreveu. É preciso entender que isso não desmerece ninguém. Muito pelo contrário. Colocar o nome de quem desenhou aquelas letras não só demonstra sua integridade e caráter, como também enaltece suas leituras. Culto não é aquele que "escreve" palavras bonitas plagiando o que é alheio. Culto é quem reconhece o valor dessas palavras e de quem as escreveu. Culto é aquele capaz de mostrar as leituras que têm e as fontes nas quais se inspira.
Perdão, enfim, pelo desabafo todo. Mas dói. Dói como doeria você ver uma coisa sua - e da qual você gosta muito -, sendo exibida nas mãos de outro. Eu só não queria cair no abismo de bloquear esse blog todo. Seleção, clique com botão direito e teclado com o seu Ctrl... Penso que certas coisas são mesmo desnecessárias. E no fundo, mesmo, nem que seja de bobo, eu acredito no melhor das pessoas. Acredito em quem copia e dá créditos. E acredito, acima de tudo, em quem corrige os próprios erros.
Valeu.